Prosa dispersa
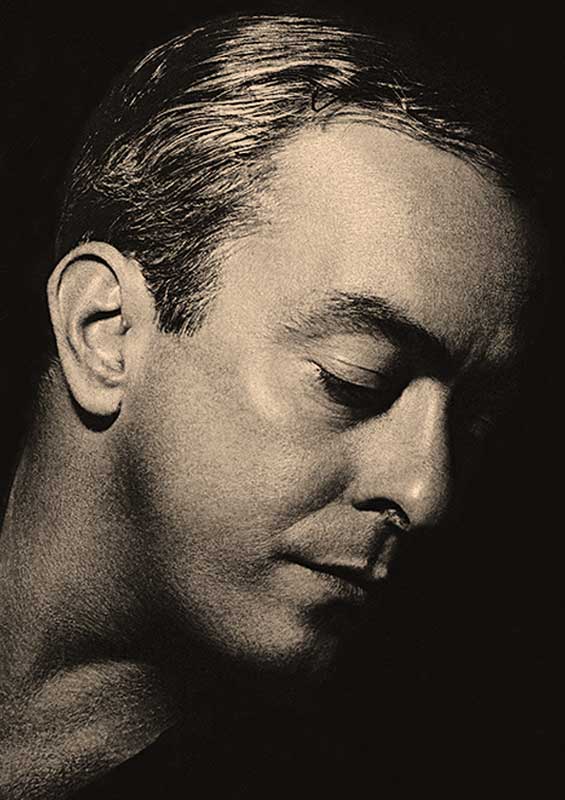
CERTIDÃO DE NASCIMENTO
A história já tem sido contada mas um amigo de São Paulo pede-me que faça um zoom (perguntem depois o que isso quer dizer ao meu querido colega da esquerda: piedade, dedos-duros! — esquerda da página...?) sobre a criação de certas músicas de Antônio Carlos Jobim que deram partida ao movimento da bossa nova. Foi aí pelos meados de 1956. Eu tinha encontrado um financiador (graças à publicidade feita em torno do meu filme, que se articulara na Europa e determinara uma viagem minha com o produtor Sacha Gordine ao Brasil) para a minha peça “Orfeu da Conceição” e andava procurando um músico para fazer os sambas comigo. Não queria nenhum dos nossos “monstros sagrados” eruditos por motivos óbvios. Queria sangue novo. Tentei primeiro meu velho amigo, já falecido, Vadico, o famoso parceiro de Noel que eu conhecera em Los Angeles e com quem eu me ligara de amizade. Vadico unia o popular ao erudito. Conhecia música profundamente e quando o encontrei nos Estados Unidos não parava de estudar. Castelnuovo Tedesco era seu professor e Vadico enchia páginas e páginas de papel de música reformulando as lições do mestre. Além disso tramalhava seu piano sem parar. Mas um dia telefonou-me e com aquela gagueira sua toda peculiar, disse-me que não se julgava ainda preparado para uma coisa de tal responsabilidade. Não houve argumento meu que valesse. Escorado em sua natural modéstia, Vadico fez pé firme.
Eu, que já estava começando a articular a produção, desanimei. E foi então que, casualmente, no Bar Villarino na cidade (onde todas as tardes, depois do trabalho, reuniam-se na saudosa “mesa grande” um grupo de amigos onde havia um pouco de tudo) nasceu um nome: Antônio Carlos Jobim. Eu estava em conversa com Lúcio Rangel e Haroldo Barbosa e coçávamos os três a cabeça diante do problema, quando Lúcio, ao ver Tom, que estava numa mesa à parte, sugeriu-me uma tentativa com o jovem maestro. Tom havia feito a Sinfonia do Rio de Janeiro com Billy Blanco e deixara no ar primícias de novas harmonias. Eu o conhecera, juntamente com Donato e João Gilberto, aí por 1953, na época do finado Clube da Chave, e as canções do jovem compositor carioca constituíam realmente uma novidade: Teresa da praia, feita com Bonfá, Foi a noite, Sem você; havia algo ali de novo que ainda não se encontrara totalmente.
Perguntei-lhe se toparia fazer uma experiência comigo. Tom concordou e eu, dias depois, lhe dei uma cópia da peça onde já havia marcado os lugares onde devia entrar música bem como “monstros” das letras dos sambas de situação, dentro do contexto.
Dias depois Tom me telefonou. Tinha algumas ideias. E assim ingressei pela primeira vez, aí por abril de 1956, no saudoso apartamento nº 201 da rua Nascimento Silva 107. Uma sala quase nua de móveis como gosta Tom, com piano à direita. Tom mostrou-me alguns temas apenas esboçados. Até hoje os pelinhos do braço se arrepiam quando me lembro. Era exatamente o que eu sonhava, aquela música poética em modo plagal, profundamente amorosa no seu lirismo.
Estimulado pela conversa, e depois de discutirmos um pouco a situação da personagem no primeiro ato, Tom ensaiou ao piano os primeiros acordes de “Se todos fossem iguais a você”. O samba saiu ali mesmo, na hora, nós procuramos juntos as harmonias, o encadeamento das frases musicais como fazemos comumente: sem que com isso eu queira dizer que participei da feitura, pois é sempre Tom que encontra a melhor solução harmônica. E ali mesmo eu fiz a letra, logo que a composição foi estruturada. Era, de certo modo, assistir ao nascimento do novo samba.
✩
Agora, contarei o que se passou com o samba “Se todos fossem iguais a você” depois de minha partida para Paris, em 1957. Lá eu estava trabalhando na Delegação do Brasil junto à UNESCO quando um dia chega-me uma carta de Tom: o samba tinha estourado. Primeiro, José (Zequinha) Marques da Costa, em São Paulo, o havia ensinado ao saudoso cantor Almir Ribeiro (morto dois anos depois, por afogamento, em Punta del Este), que por sua vez o lançara na boate Cave: berço, também, de “Serenata de adeus”, cantado pouco depois pela então novata Morgana. Começara a corrida dos cantores para a música e Maysa, por esse tempo no auge de sua carreira, gravou. Mas não sei o que deu na Oncinha (espero que não tenha sido ela, e sim algum arranjador, ou proprietário de “etiqueta”, com veleidades “puristas”) — mas a entrada do samba, que é feita na segunda pessoa do singular (de acordo com a expressão popular então corrente: “Vai tua vida”) foi transformada nesta coisa que nem é popular, nem é português “Vai sua vida”. Isto porque alguém, como dizia Chico Anysio, achou que não ficava bem o samba começar na segunda pessoa do singular (tu) na primeira parte, e terminar na terceira (você). Como se devesse fazer samba para acadêmicos no melhor vernáculo e não para o povo... E o resultado é que a maioria dos cantores foi nas águas de Maysa. O samba só saiu correto na gravação de Ângela Maria, pois a cantora teve o bom senso de mandar me perguntar, minutos antes de gravar, como era o certo. “Se todos fossem iguais a você” foi um verdadeiro tiro. O nosso primeiro, aliás. O samba teve mais de trinta gravações e popularizou-se também em Montevidéu e Buenos Aires, para onde o levaram Almir Ribeiro, Elizeth, Maysa e outros cantores brasileiros que, na ocasião, faziam a bacia do Prata. E talvez tenha sido justamente esse sucesso o culpado do não-acontecimento dos outros sambas da peça Orfeu da Conceição, sobretudo “Lamento no morro”, que eu considero o melhor dessa safra:
Não posso esquecer
O teu olhar
Longe dos olhos meus.
Ai, o meu viver
É te esperar
Pra te dizer adeus.
Mulher amada
Destino meu
É madrugada…
Sereno dos meus olhos já correu.
Lembro-me que uma tarde, depois de minha volta definitiva do meu posto em Paris, em fins de 57, num coquetel no Au bon gourmet ao tempo em que era ainda restaurante (não sei mais se para o lançamento de algum livro) meu querido amigo, o poeta Manuel Bandeira, que “torce” muito por mim, abraçou-me bem apertado, enquanto me dizia ao ouvido:
— Esse é o único tipo de sucesso que eu invejo.
Lembrei-me imediatamente, ao ouvir o poeta falar assim, de uma madrugada há uns 33 anos atrás, quando, numa viagem para São Paulo, descarrilhou o trem em que íamos o depois romancista Otávio de Faria, o depois deputado e já falecido José Artur da Frota Moreira e eu. Saltamos e saímos andando à toa por uma cidade que, se não me fala a memória, era Resende ou Barra Mansa. Deviam ser umas três horas da madrugada, e ao aventurarmo-nos por uma rua escura, numa longa perspectiva, surgiu ao longe um soldado caminhando em nossa direção. Pouco antes de cruzar conosco, começou ele a assoviar uma música que me deixou todo arrepiado, porque era minha e de Haroldo Tapajós, feita quando eu tinha uns 15 anos e que conheceu um certo sucesso, na voz dos então famosos Irmãos Tapajós: “Canção da noite”. Ouvi-la assim ao azar de uma madrugada, nas circunstâncias de um pequeno acidente ferroviário e no âmago de uma cidade do interior, assoviada por um soldado que passava, foi uma das maiores emoções da minha vida.
Nesse mesmo ano de 1956, Tom, depois de preparada a partitura da minha peça Orfeu da Conceição, resolveu ir descansar em Poço Fundo, lá para os lados de Itaipava, onde seu pai tem um sítio. Quatro sambas (os nossos primeiros) haviam saído dessa safra, todos para o Orfeu: “Se todos fossem iguais a você”, “Lamento no morro”, “Mulher, sempre mulher” e “Um nome de mulher”. Minha valsa Eurídice seria usada como o tema da mulher amada. Tudo andava sobre rodinha e eu, uma vez escolhido o diretor e os atores, achei-me com direito de ter uma angina de garganta, que me bateu na cama.
Foi no meio dessa angina que Tom, um dia, de volta da montanha, chegou à minha casa, na rua Henrique Drummond, sentou-se ao meu lado e, depois de um papo manso, pegou meu violão e pôs-se a trocar um sambinha que logo me alertou o ouvido.
— Você gosta? — perguntou-me ele ao terminar.
— Faz de novo.
Tom repetiu-o umas dez vezes. Era uma graça total, com um tecido melancólico e plangente; e bastante “chorinho lento” no seu espírito. Eu fiquei de saída com a melodia no ouvido, e vivia a cantarolá-la dentro de casa, à espera de uma deixa para a poesia. Aquilo sim, me parecia uma música inteiramente nova, original: inteiramente diversa de tudo o que viera antes dela, mas tão brasileira quanto qualquer choro de Pixinguinha ou samba de Cartola. Um samba todo em voltas, onde cada compasso era uma nota de amor, cada nota uma saudade de alguém longe.
Mas a letra não vinha. De vez em quando eu me sentava à minha mesa, diante da janela que dava para o Country (hoje a casa foi, é claro, transformada em mais um prédio de apartamentos...), e tentava. Mas o negócio não vinha. Acho que em toda a minha vida de letrista nunca levei uma surra assim. Fiz dez, vinte tentativas. Houve uma ocasião em que dei o samba como pronto, à exceção de dois versos finais da primeira parte, que eu sabia quais eram, mas que não havia maneira de se encaixarem na música, numa relação de sílaba com sílaba. Eu já estava ficando furioso, pois Tom, embora não me telefonasse reclamando nada, estava esperando pelo resultado.
Uma manhã, depois da praia, subitamente a resolução chegou. Fiquei tão contente que cheguei a dar um berro de alegria, para grande susto de minhas duas filhinhas. Cantei e recantei o samba, prestando atenção a cada detalhe, a cor das palavras em correspondência à da música, à acentuação das tônicas, aos problemas de respiração dentro dos versos, a tudo. Queria depois dos sambas do Orfeu, apresentar ao meu parceiro uma letra digna de sua nova música: pois eu realmente a sentia nova, caminhando numa direção a que não saberia dar nome ainda, mas cujo nome já estava implícito na criação. Era realmente a bossa nova que nascia, a pedir apenas, na sua interpretação, a divisão que João Gilberto descobriria logo depois.
Intitulei-o “Chega de saudade” recorrendo a um de seus versos. Telefonei para Tom e dei um pulo a seu apartamento. O jovem maestro sentou-se ao piano e eu cantei-lhe o samba duas ou três vezes, sem que ele dissesse nada. Depois, vi-o pegar o papel, colocá-lo sobre a estante do piano e cantá-lo ele próprio. E em breve chamar sua mulher em tom vibrante:
— Teresa!
Diário Carioca, 29 de janeiro de 1965
